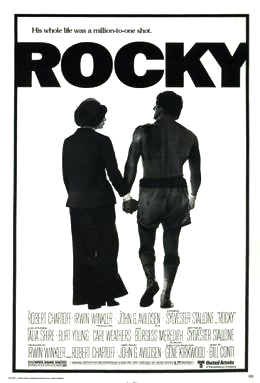Raimunda (Penélope Cruz) retorna para casa e encontra o marido morto na cozinha, esfaqueado pela própria filha, a qual alega que se defendia do pai, que queria violentá-la. Enquanto isto, Sole (Lola Dueñas), sua irmã, é assombrada pelo "fantasma" da mãe. Este é o enredo da mais recente tragicomédia de Almodóvar.
O mestre espanhol brinca com o espectador, iniciando seu filme com todas as características de um dramalhão mexicano, no qual todos os elementos de sobressaem negativamente, a fotografia, a trilha sonora, a atuação. Tudo é excessivo, demasiadamente marcado, catastrófico. Mas logo o clima é atenuado pelo peculiar humor de Almodóvar e a tragédia se transforma da possibilidade de mudança na vida de Raimunda e sua filha, que, através da dor e da culpa, estabelecem um novo marco zero.
"Volver" mantém a linha tradicional do diretor, protagonistas femininas fortes, a presença da morte, da finitude, dos limiares, o absurdo do mundo, a prostituta, os recalques duma infância triste, os abusos. O mundo de Almodóvar é único, porém, coletivo. Único, porque visão sua; coletivo, porque, apesar da estranheza e da singularidade, todos possuem histórias absurdas em suas famílias, todos possuem seus traumas e seus demônios sepultados nas profundezas do subconsciente.
Penélope Cruz é uma atriz mediana, mas que engrandece nas mãos do diretor espanhol. A violência da trama consegue obter uma qualidade que até a própria Penélope deve desconhecer e, no final das contas, ela brilha. Carmen Maura, no papel da mãe de Raimunda e Sole, é um atributo à parte. Tão lírica em sua dramaticidade, cômica em sua desgraça.
Enfim, elogiar Almodóvar é como chover no molhado. Seus filmes foram feitos para serem vistos e nos emocionarem; para eles, as palavras são poucas e falhas.
O mestre espanhol brinca com o espectador, iniciando seu filme com todas as características de um dramalhão mexicano, no qual todos os elementos de sobressaem negativamente, a fotografia, a trilha sonora, a atuação. Tudo é excessivo, demasiadamente marcado, catastrófico. Mas logo o clima é atenuado pelo peculiar humor de Almodóvar e a tragédia se transforma da possibilidade de mudança na vida de Raimunda e sua filha, que, através da dor e da culpa, estabelecem um novo marco zero.
"Volver" mantém a linha tradicional do diretor, protagonistas femininas fortes, a presença da morte, da finitude, dos limiares, o absurdo do mundo, a prostituta, os recalques duma infância triste, os abusos. O mundo de Almodóvar é único, porém, coletivo. Único, porque visão sua; coletivo, porque, apesar da estranheza e da singularidade, todos possuem histórias absurdas em suas famílias, todos possuem seus traumas e seus demônios sepultados nas profundezas do subconsciente.
Penélope Cruz é uma atriz mediana, mas que engrandece nas mãos do diretor espanhol. A violência da trama consegue obter uma qualidade que até a própria Penélope deve desconhecer e, no final das contas, ela brilha. Carmen Maura, no papel da mãe de Raimunda e Sole, é um atributo à parte. Tão lírica em sua dramaticidade, cômica em sua desgraça.
Enfim, elogiar Almodóvar é como chover no molhado. Seus filmes foram feitos para serem vistos e nos emocionarem; para eles, as palavras são poucas e falhas.